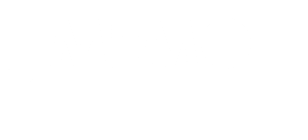Desde 7 de outubro, diversos artigos de toda uma gama de redes e agências listaram uma série de filmes para contextualizar a crise em curso e melhorar a compreensão do público leigo sobre as diferentes dimensões do conflito.
A maioria dessas obras compreende títulos palestinos, como Toque de recolher (1994), Paradise Now (2005), Cinco câmeras quebradas (2011), Farha (2021), e incontáveis documentários sobre Gaza, como Nascido em Gaza (2014), Samouni Road (2018), Lágrimas de Gaza (2010) — dentre muitos outros. Embora admiráveis e necessários, não surpreende que filmes como esses sejam difamados como enviesados.
Os filmes supracitados têm como foco a experiência e a vida palestina que o mundo conhece e acompanha há décadas. Neste artigo, porém, vamos além das vozes palestinas, ao optar por dar ênfase a um grupo seleto de obras israelenses. Todos são dirigidos por cineastas israelenses, ao trazer uma perspectiva distinta sobre como chegamos ao presente ponto da história.
Dois critérios foram empregues: engenhosidade cinematográfica no tratamento dos elementos abordados e confiança na posição ética dos realizadores sobre a causa palestina.
Cada um desses filmes são peças de um grande mosaico, ao expor um Estado corrupto e imoral cujas políticas de décadas nos levaram à tragédia em curso.
Os esforços desses cineastas são tão indispensáveis como as obras de seus colegas palestinos.
Os primeiros 54 anos: Um breve manual da ocupação militar (2021)
Nenhum outro cineasta israelense é tão obstinadamente antissionista como o documentarista e satirista Avi Mograbi, radicado em Paris. O experiente cineasta é membro fundador do célebre grupo Breaking the Silence, uma iniciativa de ex-soldados cujo intuito é documentar as violações perpetradas por Israel contra civis palestinos nos territórios ocupados da Cisjordânia, Jerusalém e Gaza.
LEIA: Oscar: Diretor de Melhor Filme Estrangeiro condena ‘desumanização’ de Gaza
O característico humor ácido e a voz indignada de Mograbi se tornam coadjuvantes nesta obra moderada, direta e factual sobre como Israel usurpou pleno controle sobre as terras palestinas desde 1967. Entrevistas com 38 soldados se pontuam por comentários secos de Mograbi sobre as estratégias adotadas pelo governo colonial para anexar territórios.
Mograbi reitera dois fatos fundamentais comumente esquecidos. O primeiro é que a Resolução 242 das Nações Unidas de 1974, que demanda a retirada israelense dos territórios ocupados, foi deliberadamente ignorada por sucessivos governos. Segundo, que as erupções de violência que transcorreram desde então, a começar pela Primeira Intifada, em 1987, foram reação direta das ininterruptas políticas de anexação israelense.
Tão revelador quanto é o uso do Estado sionista da violência instigada para retratar a si mesmo como vítima diante da comunidade internacional.
No final do filme, Mograbi deixa claro que toda esperança de uma solução justa de dois Estados é nada mais que uma ilusão fabricada por Israel, de modo que devolver as terras expropriadas e ceder aos palestinos seu direito à autodeterminação jamais esteve sobre a mesa.
Mordaz, intenso e altamente preciso, Os primeiros 54 anos é um importantíssimo e abrangente registro histórico sobre o conflito
A lei por essas bandas (2011) e Cabine de exibição (2019)
Como Mograbi, o cineasta Ra’anan Alexandrowicz é também expatriado, radicado na Filadelfia. Documentarista brilhante, sua obra autorreflexiva se distingue por concentrar-se nas limitações do meio.
Alexandrowicz chegou aos holofotes internacionais com sua vitória no festival de Sundance por The Law in These Parts (A lei por essas bandas), uma incisiva averiguação sobre o sistema legal estabelecido por Israel — como diz um entrevistado — para impor a ordem e não a justiça.
LEIA: Guerra contra Gaza – Mentiram para nos levar a um genocídio e a Al Jazeera nos mostrou como
Composto de entrevistas com juízes aposentados dos tribunais militares, Alexandrowicz, como Mograbi, adota a guerra de 1967 e a subsequente ocupação de terras palestinas como ponto de partida para investigar o quadro legal responsável pela subjugação sistemática do povo nativo e pela “legitimação” dos assentamentos ilegais em torno de Jerusalém.
Desde o tratamento racista promovido pelo Estado ao uso da “detenção administrativa” — sem julgamento ou acusação —, Alexandrowicz desnuda um judiciário tendencioso e implacável em desumanizar os palestinos.
O cineasta realiza suas entrevistas contra uma tela grande na qual se projetam vídeos e imagens dos julgamentos fraudulentos conduzidos por Israel, além de vídeos chocantes da violência e da humilhação sofrida há décadas pelos palestinos. Alexandrowics força seus sujeitos a confrontar as repercussões das leis que eles mesmos conjuram. Alguns admitem certa culpa na opressão e no derramamento de sangue por mais de meio século; outros adotam uma posição mais tímida, se recusam a ser julgados ou buscam se evadir de um remorso discernível.
O sucesso de A lei por essas bandas não impôs nenhuma mudança política a Israel, o que levou Alexandrowicz a assumir um extenso hiato no qual questionou a própria eficácia e o impacto do meio audiovisual.
Oito anos depois, lançou o igualmente inquisitivo Cabine de exibição, quase um experimento de laboratório centrado nas reações de uma estudante judia americana a vídeos da ong israelense B’Tselem, registrando as violações de direitos humanos nos territórios palestinos ocupados, ao lado de peças de propaganda divulgadas pelo exército israelense. A simpatia que a estudante, a princípio, professa pelas imagens gráficas dos abusos de Israel contra os civis palestinos pouco a pouco é tomada por dúvida e, em último caso, por antipatia. A personagem filtra as imagens de acordo com suas convicções, dando de ombros diante da incerteza e, com o tempo, capitulando à “verdade” que ela sempre acreditou.
“Quem sabe, questionar o que vejo reforça o que acredito”, diz ela. “Quem sabe, a B’Tselem me ajuda”. Tamanha desconfiança, esta fé cega na justeza do sionismo, é um produto do Estado de apartheid criado pelos legisladores de A lei por essas bandas.
Deste modo, sugere o filme, uma mudança tangível é cada vez mais remota.
Os colonos (2016)
O documentário de Shimon Dotan, nascido na Romênia e criado em Israel, é facilmente o filme que mais nos indigna nesta lista.
Os personagens são defrontados com uma pergunta simples: O que é um colono? As respostas que o autor recebe ao longo das filmagens são perturbadoras, repletas de um racismo explícito, uma ignorância perturbadora, um violento moralismo e um desesperador apego a uma doutrina falida.
Similar a Alexandrowicz e Mograbi, Dotan assume 1967 como ponto de partida para a expansão dos assentamentos ilegais, ao reafirmar o papel do rabino Zvi Yehuda Kook em dar legitimidade religiosa à colonização. As restrições brevemente instituídas durante seu reinado, na década de 1990, logo seriam jogadas pela janela, primeiro por Ariel Sharon, então por seus sucessores no governo.
Dotan incorpora imagens de arquivo e entrevistas com acadêmicos críticos ativistas de esquerda de Israel, junto a sua narrativa cronológica, muito embora o foco do filme permaneça em torno das chocantes conversas com os colonos ilegais.
Muitos dos entrevistados são fundamentalistas religiosos inabaláveis, que asseveram seu direito divino à terra; outros tratam a expropriação de terras palestinas e a expulsão de seus habitantes nativos como nada mais que uma questão de habitação social. Os direitos dos palestinos sequer passam pelas cabeças dos personagens; são refutados e descartados, quando muito. A anuência do governo israelense aos assentamentos encoraja a agressão, o preconceito e a corrupção nos assentamentos como salvaguardas às quais os palestinos não podem responder.
Danton traz à luz uma realidade israelense muito conhecida do Ocidente, que, contudo, prefere lavar suas mãos.
Tantura (2022)
A Nakba — ou “catástrofe” palestina de 1948 — continua um tabu mesmo a artistas israelenses bastante inclinados à esquerda. Alon Schwarz rompe esse longo silêncio com seu documentário assombroso sobre as crônicas dos massacres de então na aldeia costeira de Tantura, conduzido pelas Brigadas Alexandroni, que viriam a constituir o exército de Israel. Na ocasião, milhares de palestinos nativos foram assassinados e enterrados em covas coletivas.
LEIA: De Tantura a Naqab, a vergonha de Israel está sendo exposta
A gênese do projeto alude a uma pesquisa realizada pelo acadêmico Teddy Katz no fim dos anos de 1990, na qual conseguiu entrevistar soldados que testemunharam ou estiveram diretamente envolvidos no massacre. Quando as descobertas de Katz chegaram às manchetes, os veteranos das forças coloniais voltaram atrás em suas confissões e trabalharam para dar fim a sua carreira. Katz, no entanto, compartilhou os registros com Schwarz, para dar base a sua obra.
“I found seven Jewish people who said there was a massacre [at Tantura]. But later, they all fell into line and denied it.”
Filmmaker Alon Schwarz challenges Israel's narrative about the 1948 massacre of a Palestinian village. pic.twitter.com/j9MntjjLrz
— Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 16, 2022
Além disso, o diretor entrevistou numerosos soldados ainda vivos. Alguns deles descreveram os assassinatos que testemunharam; outros assumiram tomar parte. Nenhum expressou remorso por suas ações, tampouco um sentimento de humanidade para com os homens sepultados em valas anônimas.
Tantura não se encerra como o documentário The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2012), no qual os assassinos reconhecem, em último caso, o grave mal que cometeram. Em Israel, os fins justificam os meios e os crimes são perdoados sob o pretexto de construir uma nação.
LEIA: Veteranos israelenses admitem massacre na aldeia palestina de Tantura em 1948
A mais importante falácia histórica desmentida por Schwarz é que os palestinos simplesmente “fugiram” quando o exército israelense chegou para tomar suas terras. O Estado de Israel, diz a obra, foi erguido sobre um mar de sangue — sangue que jamais parou de jorrar. E até que haja um reconhecimento formal das atrocidades históricas cometidas em nome do país, a violência jamais vai acabar.
Jaffa, a mecânica da laranja (2009)
Menos incisivo, quem sabe, menos premente, é o ensaio contemplativo de Eyal Sivan, radicado na Europa, sobre a apropriação das tradicionais laranjas palestinas pelo mercado exportador de Israel a todo o mundo.
Ao misturar imagens de arquivo, fotografias e entrevistas com pesquisadores e testemunhas já idosas da Nakba, Sivan reconstrói com um notável afeto os anos que precederam 1948, quando judeus e palestinos viviam lado a lado em harmonia. Então, tudo mudou.
Muito embora judeus possuíssem apenas sete ou oito porcento das terras de Jaffa, os batalhões israelenses expulsaram os palestinos nativos de suas próprias terras, ao tomar à força o controle da cidade e reivindicar seu cultivo como se fosse deles. Jaffa se tornou símbolo da propaganda sionista — pedra angular do suposto deserto palestino que Israel fez “prosperar”, de uma “terra sem povo para um povo sem terra”.
LEIA: Jaffa: Um estado judeu e democrático é um paradoxo
Sivan retrata a criação do Estado de Israel em 1948 como uma enorme empreitada colonial que explorou todos os meios possíveis para consolidar uma autoimagem glorificada e nacionalista, junto a uma contundente campanha de desinformação. À medida que avança o filme, as táticas adotadas pelo Estado israelense para reforçar o controle sobre as terras revelam que a mesma máquina de propaganda opera ainda hoje sob os mesmos termos: a expropriação da imagem, a distorção da história e o roubo e a obliteração da identidade palestina.

Cartaz intitulado “41 anos desde a usurpação da Palestina”, impresso pela Frente Popular pela Libertação da Palestina em 1989 [Coleção Ali Kazak/Palestinian Museum Digital Archive/Reprodução]
O papel dos britânicos em promover o assentamento exclusivamente judaico em 1938, a fim de manter sua importação de itens cítricos, é um lembrete de como as forças coloniais do Ocidente contribuíram em marginalizar e destituir de direitos o povo palestino.
Que se faça manhã (2021)
Este é o filme menos óbvio da presente lista. A política expressa nesta comédia surrealista de humor ácido de Eran Kolirin não é tão direta quanto os títulos anteriores. Seus temas adquirem vida por meio de um enredo subversivo que traz à tona a realidade cruel da existência palestina dentro do território considerado Israel.
Inspirado no romance homônimo, do controverso escritor palestino Sayed Kashua, a história se concentra em Sami (Alex Bakri), um executivo de teoria da informação que leva uma confortável vida de classe média em Jerusalém, até se ver preso na aldeia árabe de sua infância devido a um bloqueio militar israelense, imposto por razões jamais explicitadas. A princípio distante de suas raízes, Sami percebe pouco a pouco que a vida próspera que leva é nada senão uma máscara a sua existência frágil e descartável em uma sociedade que sempre o tratou como um cidadão de segunda categoria.
LEIA: Karimeh Abbud, seu pioneirismo e a Nakba
O filme é parte de um extenso exame do processo de guetização dos palestinos dentro de Israel, além de um estudo sobre a claustrofobia e a crueldade de não ser capaz de tomar seu destino em suas próprias mãos.
Que se faça manhã é, quem sabe, o mais compassivo, perspicaz e lancinante retrato das vidas palestinas nos territórios ocupados criado por um cineasta israelense.
Com um elenco inteiramente palestino, Que se faça manhã demonstra que os palestinos jamais poderão viver uma vida normal enquanto Israel permaneça um Estado supremacista.
Publicado originalmente em inglês pela rede Middle East Eye em 21 de novembro de 2023