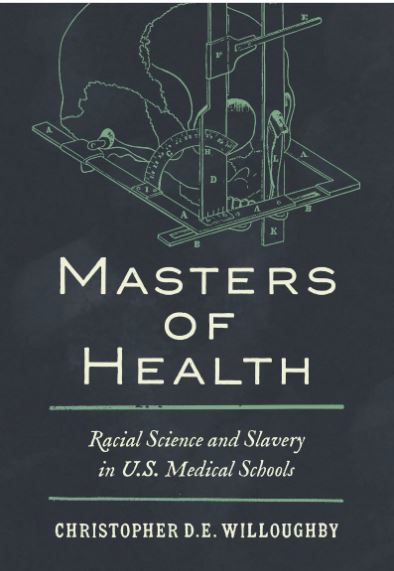A Bahia e descendentes dos malês eescravizados lutam para que a Universidade de Harvard devolva o crânio de um dos revoltosos contra a escravidão ocorrido na Salvador de 1835. O crânio foi desenterrado, roubado e traficado para os Estados Unidos um ano depois da revolta liderada por africanos muçulmanos (ou malês, na língua ioruba). Foi enviado pelo advogado americano que o roubou como relíquia de um dos líderes da rebelião.
O caso acaba de entrar também para a literatura médica sobre as práticas racistas da academia, com o recente lançamento do livro Masters of Health: Racial Science and Slavery in U.S. Medical Schools (Mestres da Saúde: Ciência racial e Escravidão nas Escolas Médias dos EUA), publicado ainda apenas em inglês.
O autor, Christopher D. E. Willoughby, é um historiador das relações da ciência com a saúde humana, também editor do livro Medicine and Healing in the Age of Slavery (Medicina e cura nos tempos da escravidão). Ao lançar Masters of Health, sobre a formação médica dos Estados Unidos no período antebellum (antes da primeira Guerra Civil Americana, marcado pela escravidão), ele acrescenta detalhes a um capítulo da história da escravidão e da luta contra ela no Brasil.
A denúncia fundamental da obra é o papel da medicina na propagação das ideias e práticas racistas pelo mundo. As escolas médicas americanas não foram apenas influenciadas por uma época, mas sim criadoras de argumentos e práticas que emprestaram às ideologias poligenistas e supremacistas da época a aura de verdades científicas e acadêmicas.
Basicamente, a medicina acreditava na diferença da origem das raças e na superioridade branco-anglo-saxônica, conduzindo seu ensino médico de modo a convalidar esse pressuposto. A vida e os corpos de pessoas negras foram usados como objetos de investigação, manipulação, exposição e formação médica. É onde entra a história do malê brasileiro.
A manutenção do crânio “de um líder de uma das maiores revoltas de escravos da história brasileira, a revolta muçulmana, ocorrida em Salvador, Bahia, em 1835” , no Museu Peabody da Universidade de Harvard, foi relatada por um comitê criado em janeiro de 2021 para identificar e dar destinação aos restos mortais de milhares indígenas americanos e de 15 africanos escravizados nos EUA, guardados na academia.
O relatório do comitê, divulgado em junho pelo jornal estudantil The Harvard Crimson, repercutiu fortemente no Brasil, com a reportagem distribuída pela Agência Estado. O documento trouxe a informação de que, além dos quinze habitantes dos EUA, havia outros quatro crânios de escravizados no Caribe e no Brasil. Entre eles o malê que teve o crânio traficado. O raro registro de que ele provinha da cabeça de um líder de rebelião escrava foi feito pelo advogado que o despachou para os EUA, valorizando o roubo.
Embora o racismo médico remonte a mais de dois milênios, conforme historiadores da area, teorias racistas do antebellum foram ensinadas rotineiramente nas escolas médicas dos EUA nos séculos XVIII, XIX e continuaram fortes na primeira metade do século XX.
Harvard e outros museus colecionavam crânios provenientes de “um mundo vulnerável à escravidao e ao imperialismo”. Restos mortais eram traficados após ataques e batalhas coloniais na África e nas Américas. Com isso, estudantes podiam manipular os corpos daqueles que foram mortos pelas tropas americanas, inglesas, francesas, portuguesas e espanholas e comparar e explicar pretensos sinais de inferioridade dos não brancos.
Em meio às coleções de restos mortais com origens apagadas sob uma única classificação racial, Willoughby resgata as história de dois homens que sintetizam a revolta das vítimas contra o sistema escravocrata e as práticas racistas que as desumanizavam. Um deles foi o de Sturmann, levado ainda adolescente da África do Sul para os EUA como objeto de exibição zoológica.
Com outros três africanos, o jovem era obrigado a fazer performances públicas como animal violento e exótico para demonstrar a inferioridade e brutalidade atestada pela medicina, em espetáculos diários. Para Sturmann, a alternativa contra o sistema foi o suicídio por enforcamento. Mesmo assim, seu corpo explorado em vida passou a ser objeto de manipulação acadêmica após a morte.
O segundo homem não tem nome. Mas carrega parte da história do Brasil. Muçulmano escravizado na Bahia, ele participou e possivelmente foi um dos planejadores da Revolta dos Malês.
O líder cujo crânio foi para Harvard morreu em um hospital de Salvador, ferido por um golpe de mosquete durante a rebelião. Como os de outros revoltosos, seu corpo foi enterrado no Campo da Pólvora. Até ser roubado e enviado para um médico de Boston.
O livro recorda que a revolta dos malês foi descoberta pela polícia horas antes do início previsto, o que antecipou os acontecimentos. Pegos de supresa pela repressão, os revoltosos ficaram em desvantagem, contando com 600 outros escravos para enfrentar 1.500 policiais. O autor deduz que a adesão teria sido muito maior, não fosse a denúncia que mobilizou a polícia e levou ao fim sangrento do levante. O que ele procura destacar é o desinteresse acadêmico da época pelos aspectos de um revolta que envolveu estratégia, planejamento, além da força dos laços culturais dos africanos e religiosos dos malês que permitiram a articulação do enfrentamento.
Isso certamente porque “a criatividade, inteligência e solidariedade rebelde oferecia uma contranarrativa essencial à representação racista feita pelos professores médicos dos EUA”. Para demonstrar a menor capacidade intelectual da pessoa à qual pertenceu o crânio, os médicos procuraram atestar sinais de brutalidade física em sua morfologia, anotando pseudos indicadores como tamanho e capacidade, como características étnicas e raciais inferiores. Além disso, a associação da morfologia do crânio com ferocidade enfatizava também a rebelião e seus líderes muçulmanos nagôs como supostamente brutais. Era, como observa o autor, uma faceta adicional da colonização.
Os “mestres da saúde”, título do livro, são os estudantes formados sem conhecimento da diversidade étnica e cultural com a qual estavam lidando e que, “ mais provavelmente enxergaram esta cabeça como mais um crânio africano em uma prateleira cheia de crânios de pessoas negras” e depois espalharam essa visão.
Harvard era a universidade para onde estudantes de outros países se dirigiam para formação e especialização médica. O que era uma prática atlântica, expandiu-se com os novos profissionais e sua literatura para a medicina no mundo. Ao final da antebellum, lembra o autor, a medicina racial foi globalizada.
O pensamento acadêmico da época influenciou políticas de saúde, serviços públicos e práticas discriminatórias até hoje e também o desprezo institucional por direitos dos povos violados na colonização.
A Universidade de Harvard, tem as provas de que usou, manipulou e mantém a posse do crânio que carrega valor histórico, cultural e espiritual para o povo brasileiro. Para o escritor e historiador João José Reis, referência mundial para o estudo da história e da escravidão no século XIX, esta é uma oportunidade que a universidade tem de rever seu passado racista. Mas a despeito das certezas sobre a origem do material humano, Harvard disse que pretende aguardar até o fim dos trabalhos do comitê para manifestar-se. Terá de dar uma resposta ao pedido de devolução do crânio para devida destinação, inclusive religiosa, pelos descendentes espirituais dos malês e dos africanos escravizados na Bahia.
A edição em inglês está disponível apenas na versão impressa
LEIA: Humanidade e greve de fome: Subjetividade revolucionária e descolonização dos corpos