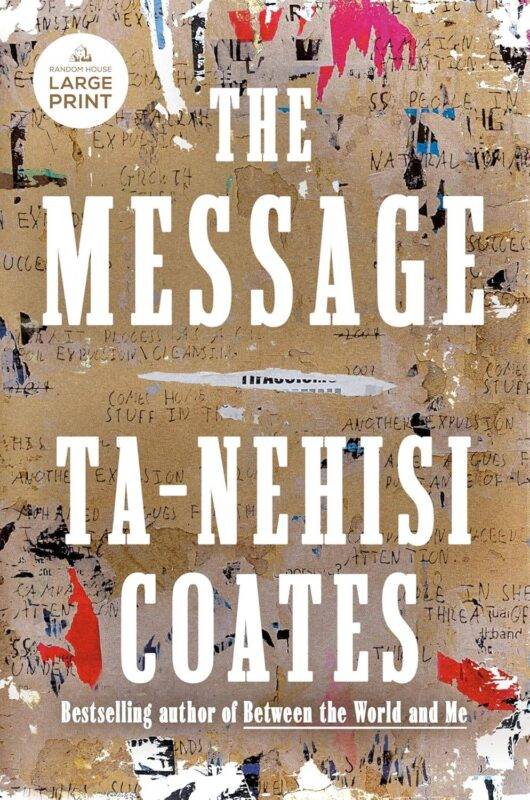Dois poderosos temas emergem do mais recente livro de Ta-Nehisi Coates, The Message — em português, A Mensagem.
O primeiro se refere a sua jornada intelectual: seus primeiros passos rumo à solidariedade internacional. Trata-se de um salto sobre o caminho que Malcolm X, os Panteras Negras e o Comitê Não-Violento de Coordenação Estudantil traçaram antes dele, ao conectar os fios políticos, históricos e emocionais que trespassam a opressão e as ideologias supremacistas.
A segunda surge de suas observações, ideias e meditações — isto é, a centralidade da “história de origem”, sobre a qual se baseia o senso pessoal e coletivo do eu e que mobiliza tanto a empatia e a solidariedade como a própria violência genocida.
Coates traz consigo uma crítica contundente das mitologias e dos pressupostos coloniais, desde o Senegal a Carolina do Sul e Palestina. Esta é parte de intensa análise por conta das percepções populares nos Estados Unidos em torno de Israel. As ponderações do autor nascem de uma viagem de dez dias que fez à Palestina ocupada, seguida por importante reflexão e pesquisa.
Internacionalismo em contexto
Os americanos raramente compreendem o papel do internacionalismo no avanço do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos.
A narrativa nacional dessa época é definida pelo localismo, segundo o qual os negros americanos, ao lado de alguns aliados brancos, alteraram a legislação e o comportamento das elites governantes exclusivamente por meio de mecanismos internos, como boicotes econômicos, ações diretas e protestos.
A narrativa popular imagina que as mudanças nas leis e nos arranjos sociais em direção a uma maior equidade foram o resultado de uma campanha de pressão popular que reorientou a bússola moral das elites governantes.
Embora todos os mecanismos internos ou locais de mobilização popular tenham, sem dúvida, desempenhado um papel significativo, a narrativa oficial ignora quase por completo as pressões igualmente substanciais exercidas sobre os Estados Unidos na arena internacional.
RESENHA: Sagrada Redenção: Expondo a mentalidade colonial sionista
Mesmo aqueles que falam sobre o internacionalismo no movimento por direitos civis tendem a se concentrar mais no impacto da solidariedade global sobre o movimento em si e não no efeito que isso teve sobre os que estavam no poder.
Durante esse período, os Estados Unidos estavam envolvidos nas guerras do Vietnã e do Camboja, extensões diretas da Guerra Fria, uma competição internacional que definia a ordem mundial diante da União Soviética.
Embora estes fossem ostensivamente confrontos militares, a vitória americana dependia, em grande parte, do uso de “soft power” para conquistar os “corações e mentes” das massas mundiais, sobretudo em um mundo formado por nações africanas e asiáticas há pouco independentes, que buscavam se estabelecer no cenário pós-colonial.
Embora a maré já estivesse mudando, os Estados Unidos ainda eram amplamente vistos como um farol de democracia. Este era um mundo que todos sonhávamos, onde os indivíduos nasciam iguais, onde apenas a lei — e não o privilégio ou prestígio — reinava suprema; onde a justiça era cega — cega para a cor da pele, o gênero, o status social ou econômico; e onde todos teriam uma chance justa.
Para robustecer tamanho soft power, os Estados Unidos subsidiaram, implantaram e difundiram arsenais de produções culturais — de filmes de Hollywood, seus livros, músicas e jornalismo a até mesmo think tanks políticos, estações de transmissão locais e fast food —; tudo isso transmitindo uma imagem de democracia, igualitarismo, prosperidade, glamour, possibilidades e, acima de tudo, alcançabilidade — através, é claro, do capitalismo.
Músicos e atores negros, atuando nas telas e no exterior, foram também parte fundamental dos esforços para projetar essa imagem. Neste contexto, negros americanos de pele clara e “mestiços” tornaram-se padrões de beleza em nações africanas — o que o próprio Coates testemunhou em sua viagem ao Senegal.
O apelo era inegável e de alcance incomensurável, ao capturar a imaginação da juventude em todo o planeta, que trocava suas roupas e comidas tradicionais por jeans, hambúrgueres e cigarros.
O estiloso Marlboro Man se tornou o epítome de alguém descolado, corajoso e livre. Todos queriam transformar seus países “na terra dos livres e no lar dos bravos”.
Hipocrisia americana
A Guerra do Vietnã e, ao mesmo tempo, o movimento pelos direitos civis desnudaram poderosamente a fachada reluzente dos Estados Unidos, ao revelar a todos uma realidade de racismo, desilusão e moralidade questionável.
Imagens de jovens soldados — ao mesmo tempo vítimas e fomentadores das intervenções violentas — junto de imagens da brutal repressão a manifestantes pacíficos em casa, contrastavam fortemente com a alegação dos Estados Unidos de serem os campeões da liberdade.
O pior de tudo eram as imagens das realidades da América Negra. A era dos direitos civis expôs o terrível submundo dos Estados Unidos — apartheid, leis de Jim Crow, linchamentos e as muitas outras manifestações do terrorismo supremacista branco.
RESENHA: Estrada Balfour: Curta-metragem traz paralelo com o mundo moderno
Foi, quem sabe, a primeira exposição visual da essência dos Estados Unidos no palco global, lançando uma longa sombra sobre a reputação do país, ainda mais tenebrosa quando posta em contraste com a lucidez moral dos principais revolucionários negros, como Malcolm X, Fred Hampton, Fannie Lou Hamer e Muhammad Ali.
A hipocrisia de propagar a liberdade enquanto privava seus próprios cidadãos de direitos básicos começou a rachar e os alicerces da narrativa americana, ao iluminar um verdadeiro um abismo entre o discurso e a realidade, o que levou a um profundo constrangimento internacional entre aliados e adversários, que passaram a pôr em dúvida a posição ética e moral dos Estados Unidos.
Neste mesmo entremeio, e por razões distintas, os perigos das leis de Jim Crow passaram a se cristalizar para a classe dominante. A segregação havia afastado os jovens negros do alcance supremacista branco, dando origem a vozes poderosas dentro de tradições radicais dos movimentos negros por libertação.
A segregação havia, inadvertidamente, nutrido o amor-próprio dentre os afro-americanos, a partir do qual se formaram instituições comunitárias; as engrenagens do ativismo popular e das organizações de direitos civis haviam se criado raízes nas comunidades negras e mesmo transbordado para as comunidades brancas.
Este processo inaugurou uma renascença cultural que floresceu com tamanha glória que a expressão criativa negra passou a dominar e até definir a música, a arte, a moda e outros aspectos da cultura americana
Intelectuais e revolucionários negros se conectavam cada vez mais com os movimentos de libertação internacional, ao encontrarem uma causa comum com as forças de resistência ao redor do mundo e prenunciarem uma ameaça sem precedentes de dentro do próprio império.
A ordem estabelecida, portanto, estava vulnerável.
Os perigos de deixar a consciência da juventude negras nas mãos atentas de professores e anciãos de suas próprias comunidades ecoaram nas palavras do chefe do Departamento Federal de Investigação (FBI), J. Edgar Hoover, que afirmou, não sem infâmia, que não seriam as armas, mas o programa de café da manhã gratuito para crianças dos Panteras Negras que representava a “maior ameaça à segurança interna dos Estados Unidos”.
Desta forma, a integração entre as escolas e a sociedade americana, sobretudo nas comunidades negras, conduziu-se não como resultado de um avanço moral, mas como estratégia supremacista branca para cooptar as mentes negras e a tradição radical tanto quanto possível.
Localismo versus internacionalismo
Movimentos de libertação negra no espírito daqueles que surgiram da era dos direitos civis têm enfrentado dificuldades para emergir no mundo moderno.
A promessa radical das mobilizações do Black Lives Matter ainda não realizou todo o seu potencial como um movimento emancipatório internacionalista em um ambiente nacional de política de identidade, à medida que rostos negros de destaque foram recrutados a serviço do império — Lloyd J. Austin III, Linda Thomas-Greenfield, Clarence Thomas, Condoleezza Rice, Colin Powell, Cory Booker, Barack Obama, Robert Wood, Kamala Harris e a lista continua.
RESENHA: Alternativity: A Belém de Banksy e Danny Boyle
Simultaneamente, a classe dominante americana foi cuidadosa ao promover e celebrar apenas aqueles intelectuais negros que se concentravam em debates internos que mantivessem os americanos em constante conflito uns com os outros.
Editores e magnatas de mídia — sobretudo brancos — demonstraram uma adoração em particular a pensadores negros que preferem gastar seu tempo navegando em um labirinto da política de identidade, para os quais os “conflitos” no exterior são periféricos ou irrelevantes para as “lutas internas”.
O poderoso acesso público— aquele que depende de financiamento e apoio institucional — para escritores negros quase sempre é condicionado ao localismo.
Contra este quadro, o Black Agenda Report se refere a este fenômeno como “reducionismo identitário”, um apelo reacionário a identidades desprovidas de análise de classe, análise estrutural ou materialismo histórico.
Charisse Burden-Stelly, pesquisadora de estudos afro-americanos, fornece o exemplo da disputa entre Audre Lorde e June Jordan, em que Lorde, apoiada por um círculo “feminista”, explorou “identidades negra e judaica para atacar a crítica legítima de Jordan à entidade colonial [de Israel]”. Burden-Stelly também traz o conceito relevante e complementar de “imperialismo interseccional”, que descreve as maneiras pelas quais o imperialismo é “racionalizado, legitimado e continuado ao empregar a linguagem da interseccionalidade, ao nomear pessoas racializadas e minorizadas a posições estratégicas como porta-vozes do império”.
Até seu livro mais recente, Coates se enquadrava nessa categoria de intelectuais negros cujo trabalho permanecia local, fundamentado no reducionismo identitário, exemplificado em seu livro We Were Eight Years in Power, no qual elogiava o ex-presidente Obama como, entre outras coisas, um “ser humano profundamente moral”.
Creio que Coates seja um ser humano moral, despertado para os estratagemas pelos quais a imprensa corporativa de massa e os guardiões da informação conspiraram no intuito de manipular a própria infraestrutura de conhecimento sobre a qual suas análises poderiam se basear.
O resultado foi um brilho natural obscurecido pela descontextualização do imperialismo americano e sionista.
Para se identificar com Obama, Coates teria de estar cego para os massacres perpetrados por drones americanos durante seu governo, em diversas partes do mundo. Teria de estar cego para a amarga ironia de que Obama supervisionou o desmantelamento e destruição da Líbia, ao transformá-la de uma das nações africanas mais prósperas e autossuficientes— com saúde e educação gratuitas, zero dívida nacional, eletricidade e moradia garantidas como direitos humanos e uma cena cultural panafricana florescente — em um posto avançado instável da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), marcado pela cruel pilhagem ocidental e por um verdadeiro mercado de escravos de africanos sequestrados e empobrecidos.
No entanto, foram outros pensadores negros e palestinos e o vigor do discurso intelectual de sua própria comunidade que, íntima e publicamente, pressionaram Coates a reconsiderar suas posições, sobretudo no que diz respeito à suposta reparação do Holocausto europeu na forma de uma colônia de assentamentos ilegais construída sobre o genocídio e a expropriação de palestinos nativos.
Surge ‘A Mensagem’
O novo livro de Coates marca seu rompimento com o localismo, os fetiches de identidade, a política partidária e o tipo de racialismo desconectado das aventuras imperialistas e dinâmicas internacionalistas.
Coates começa com uma hesitante viagem a Dakar, no Senegal — para mim, a parte mais comovente do livro e a mais belamente escrita, com uma encantadora montagem translúcida de palavras. Como escritor palestino, entendi a ferida pessoal e coletiva de onde surge tamanha criatividade. A narração de Coates sobre sua viagem é simultaneamente íntima e geral, antiga e contemporânea, hesitante e segura, afetiva e intelectual, local e internacional, familiar e alheia.
RESENHA: Meu nome é Rachel Corrie: Peça relembra ativista morta por Israel
Lembrou-me algo que um ativista negro de longa data afirmou durante uma marcha pelo direito de retorno em Washington DC, no ano 2000. Ao comentar sobre a luta pela libertação e retorno à Palestina, declarou: “Pelo menos, vocês sabem de onde vêm. Nós não sabemos de que país ou de que tribo nos arrancaram. Não sabemos onde pertencemos. Nós não sabemos onde está a nossa casa”.
Essas palavras me impactaram profundamente na época e sua voz ecoou em minha mente enquanto lia a descrição de Coates sobre sua viagem à África — sua primeira tentativa de habitar e explorar a história de origem.
Seus primeiros passos no Senegal lhe pareciam incertos, repletos de uma imensa saudade e de um sentimento não-dito de ser um turista em um lugar que esperava chamar de lar. Sua experiência foi semelhante à de todos os exilados que podem transitar pelo mundo, mas nunca se sentem inteiros em lugar algum.
Em Dakar, Coates não se sentia negro o suficiente para ser considerado negro. No Senegal, Coates se deparou por residentes acostumados a visitantes afro-americanos em busca de um passado irrecuperável. Ao chegar ao país — com olhos americanos — julgou o que entendeu como uma decadente academia ao ar livre como um suposto sinal de “disfunção coletiva”.
Sua visão, contudo, rapidamente se ajustou sob o sol africano para enxergar a infraestrutura desgastada da comunidade como um “belo exemplo de espírito cívico”. Então, observou: “O africano em mim estava emergindo, e tomou a forma de uma compreensão das virtudes da sombra e do movimento lento”.
Sua escrita é luminosa, especialmente quando descreve sua passagem pela costa da Ilha de Gorée, que já foi um centro de comércio de escravos: “Senti que, de alguma forma, havia vencido a própria história. Pensei em meus avós e seus avós arrancados deste lado do mundo, arrastados ao vasto oceano. Pensei em seus sonhos frustrados de retorno. Pensei em todas as casas que tentaram construir do outro lado, apesar de tudo. Carreguei comigo uma parte todos eles — cada um deles. E eu tinha regressado”.
A profundidade do que despertou nele foi, no final das contas, algo bastante íntimo.
O mundo seguiu ao seu redor, alheio e indiferente ao peso inefável da história não redimida que ele carregava através do oceano — séculos de angústia, trabalho e horror, que até hoje permanecem abstratos na narrativa nacional dos Estados Unidos.
Uma tristeza expansiva e inexplicável nas costas do continente africano moldou um sentimento de retorno, aparentemente precário a seu leitor. É, neste momento, que Coates fala sobre uma lógica do deslocamento, bem conhecida aos povos exilados, para a qual a linguagem é, em última instância, inadequada para captar por completo.
… E lá estava eu — nesse barco de Gorée, meus olhos cheios de lágrimas, lamentando algo, tomado por sentimentos que ainda estou, mesmo enquanto escrevo iss, tentando nomear.
Tento imaginar a experiência — ouço as palavras do ancião: “Não sabemos de que país ou de que tribo nos arrancaram”. Nunca poderei compreender completamente o que significa ser de uma “tribo perdida”, arrancado de suas raízes e forçado a construir uma vida e um lar sob outro povo, cujas vidas e motores econômicos foram alimentados por seus próprios traumas geracionais, tão profundos que se alojaram em seu código genético — e quanto mais sofria, mais seu corpo era violado e mais seu coração se partia; mais eles lucravam e melhor eles viviam.
RESENHA: O cerco: Peça sobre a ocupação reflete a cultura do povo palestino
Como palestino, entendo bem — por outro lado — a dor pessoal e coletiva que orbita seu coração onde quer que vá, por toda a sua vida, sem jamais encontrar um descanso. Tamanho sentimento é verdadeiro sobretudo agora — pujante, em chamas —, enquanto assistimos aos horrores e à depravação, transmitidos em alta definição, de um Holocausto contínuo perpetrado pelo Estado de Israel.
Mas pelo menos sei pelo que estou lutando.
Conheço meu lugar de origem, minha casa, e as pessoas que povoam a história de minha linhagem. Conheço a cultura e a herança que me foi legada por aqueles que a produziram ao longo dos milênios. E isso já é alguma coisa.
Percebo hoje, no entanto, que os afro-americanos são, quem sabe, o único povo na terra que não sabe, e talvez não possa saber, de onde realmente vêm. Imagino essa ferida psíquica — tornada ainda mais dolorosa para uma pessoa pensante, emocional e moral, como Coates — e suspeito que ela nunca poderá desaparecer por completo.
Histórias de origem
No cerne deste livro está uma crítica à mitologia colonial e, mais importante, às instituições que dão vida a narrativas históricas imaginadas — ou ao menos, incompletas —, que são convenientemente moldadas a serviço do Estado e do império.
… a Revolução Americana e a Grande República; a Geração Maior, que não lutou somente para defender a pátria, mas o mundo inteiro. Se você acredita nessa história, está disposto a pensar que o Estado americano é uma força do bem, que é a democracia mais antiga do mundo, e que aqueles que odeiam a América a odeiam por suas liberdades. Mas se você acredita nisso, então, pode acreditar que esses odiadores inexplicáveis da liberdade merecem drones sobre suas cabeças.
Em meio a tamanha ponderação, Coates questiona: E se a história fosse de fato diferente? “Uma que tem seu ponto de partida no genocídio e na escravidão, e argumenta a favor de um presente muito mais sombrio?”
Da mesma forma, enquanto examina as falácias da narrativa sionista, o enfoque do autor repousa na máquina midiática que promulgou uma história fantástica, a-histórica e simplificada de um grupo étnica, linguística, racial e geograficamente diverso de pessoas retornando — como se por milagre — a um suposto lugar de origem, após impressionantes três mil anos de ausência.
A disseminação dessa história impossível — um verdadeiro conto de fadas — foi tamanha e tão poderosa que mesmo alguém com uma mente incisiva, como a de Coates, não cogitou em questionar que esse grupo de judeus poloneses, ucranianos, russos, ingleses, marroquinos, etíopes, iraquianos, alemães, franceses e outras possa, de fato, ter se considerado, ao longo da história, um único povo que, como um todo, ansiava por se unir em uma Palestina judaica.
RESENHA: Al Nakba: A catástrofe palestina continua até os dias de hoje
Contudo, por mais de três milênios, jamais se formou um movimento concentrado neste sentido, apesar de a Palestina — como todos os países de maioria islâmica — ter permanecido aberta à imigração judaica por mais de 12 séculos, salvo durante o período da ocupação cruzada ocidental.
Com notável habilidade, Coates conecta as pontas entre O Nascimento de uma Nação e Êxodo, dois grandes filmes da Hollywood clássica, cada qual a serviço de crenças supremacistas genocidas, com meio século e milhares de quilômetros que os separam.
Em Êxodo, a imagem de árabes saqueadores, covardes e propensos ao estupro, será familiar para qualquer pessoa que tenha visto a representação de negros em O Nascimento de um Nação, de [DW] Griffith. Assim como a caricatura vulgar dos negros serviu à causa da redenção branca, os árabes em Êxodo serviram à causa do sionismo.
Para que tal narrativa improvável se sustentasse, foram necessários mais dois ingredientes:
O elemento de Deus se formou a partir de histórias bíblicas. Adote o nome Israel, e de repente, tudo o que está na Bíblia relacionado a esse nome está se referindo a você! É como mudar seu nome para Eiffel e imediatamente se tornar o herdeiro daquela estranha torre em Paris ou da cadeia de montanhas com o mesmo nome no Reno.
O último, e talvez mais importante, componente foi uma vilificação e degradação absolutas do verdadeiro povo nativo da Palestina, como selvagens, terroristas e — como se não bastasse, mais recentemente — como supostos colonizadores. Assim, o controle da narrativa popular, da imaginação pública e do discurso se completa — ao menos o bastante realizar as ambições do império.
Conclui Coates:
… E é a imprensa que brinca de Deus — que decide que lado é legítimo ou não; quais pontos de vista devem ser ponderados, quais devem ser removidos da equação. Seu poder é uma extensão de outros curadores de cultura — executivos, produtores, editores —, cuja missão central é determinar quais histórias contar, quais não. Expurgado da narrativa, você não existe … Fazem mais do que estabelecer datas e autorizar a impressão. Este complexo de curadores impõe e vigia um conjunto de critérios para a humanidade, sem o qual, não há poder opressivo, porque o dever primário do racismo, do sexismo, da homofobia — e assim por diante — é enquadrar quem é humano, quem não.
Escritores, jornalistas, intelectuais, artistas, cineastas e músicos árabes e asiáticos, por exemplo, compreendem essa realidade há muito, muito tempo. Apesar de serem submetidos a quase um século de golpes e guerras americanos, a toda sorte de caos e expropriação violentos, nenhum livro por autores árabes jamais se promoveu nos corredores do establishment comercial dos Estados Unidos.
LEIA: Gênero e apoio político: mulheres e Hamas nos territórios palestinos ocupados
Pior ainda, autores palestinos e outros trabalhadores da cultura são ativa e deliberadamente silenciados e caluniados, como exemplo marcante o cancelamento da premiação à escritora Adania Shibli na Feira do Livro de Frankfurt, após Israel deflagrar o genocídio em Gaza, em retaliação e punição coletiva ao 7 de outubro.
Há muitos outros exemplos — uma lista extensa demais para pôr no papel; apenas o que chegou à esfera pública. Não podemos mensurar as demissões discretas de pesquisadores, acadêmicos e jornalistas; a rejeição de contratos; ou o cancelamento de eventos que passam debaixo do radar ou ocorrem nas sombras.
Elevar a complexidade sobre a justiça é parte integral dos esforços para forjar uma história da Palestina contada unicamente por seus colonizadores, um esforço que se estende para além dos boicotes de estados americanos; da revogação de artigos por editorias; da expulsão de estudantes das universidades; da demissão de novos âncoras de televisão; dos tiros deliberados de franco-atiradores do exército contra os jornalistas; de ataques a bomba contra romancistas por redes de espionagem. Nenhuma outra história, salvo aquela que permite o roubo, a expropriação, pode ser tolerada.
Silenciar ou generalizar Coates, porém, é algo bem mais difícil, sobretudo após o establishment liberal dos Estados Unidos passar anos promovendo sua figura como uma voz negra progressista em busca da justiça social.
A primeira tentativa ocorreu durante uma aparição à rede CBS que saiu pela culatra. Uma resenha racista da comentarista conservadora Helen Andrews sofreu repúdio sem precedentes, de maneira similar. Por acaso, quem sabe, seu artigo não mais aparece nas buscas do Google, mesmo ao pesquisarmos frases específicas.
É incerto ainda como é que as elites se reagruparão, para reagir aos avanços de Ta-Nehisi Coates. Todavia, um rápido olhar nas campanhas de mídia contra ícones culturais, como Helen Thomas ou Alice Walker pode servir de presságio.
Do conto de fadas ao novo Holocausto
Em Dakar, Coates nos recorda do simbolismo de Gorée, porque “se sabe muito bem que uma parte mínima dos milhões de escravizados passaram por essa porta”.
A história em si é uma “origem imaginada e sonhada [coletivamente], para preencher o vazio de todo um povo, a quem disseram que veio do nada; que conquistou nada e que, portanto, não é ninguém”.
Minha mente devaneia a esta altura porque encontrei a perfeita analogia à mais recente narrativa de Israel. Digo “mais recente” porque as histórias do Estado colonial de ocupação mudam de acordo com os ventos políticos. Em seus primórdios, o slogan era “uma terra sem povo para um povo sem terra”, com discussões e instituições abertamente dedicadas à “colonização” e ao “assentamento” da Palestina histórica — uma mentira de perna curta que, não tardou, foi remendada.
RESENHA: Palestina: 48 histórias de exílio
Conforme o colonialismo saiu de moda, surgiu uma demanda para invocar uma linguagem contemporânea de interseccionalidade. Ideólogos israelenses fundaram um novo mito, deveras inacreditável, segundo o qual judeus da Polônia, Ucrânia, Inglaterra, Brooklyn, entre outros, reivindicariam um caráter nativo para “retornar a suas terras ancestrais”.
Mas e se os afro-americanos decidissem aderir à tênue história de origem de que passaram exclusivamente pelos portões de Gorée? E se decidissem, em pleno 2024, sob seus próprios caprichos, “retornar” a Senegal, após séculos de indizível violência supremacista branca, para se reconstituírem em suas “terras ancestrais”, ao cumprirem uma promessa de redenção, de felizes-para-sempre, contra a angústia e os sonhos frustrados de seus ancestrais? E se chegassem em máquinas de extermínio, determinados a remover ou subjugar aqueles que, de fato, nasceram nessas terras, que vivem ali desde tempos imemoriais, para proclamarem a si mesmos herdeiros de direito, não apenas da terra como tudo que a contém — a história, a vida, os recurso?
E qual seria o fim da história se famílias afro-americanas simplesmente expulsassem os senegaleses para se mudarem para dentro das casas deles, das cidades que eles construíram, ao declarar uma presença histórica e uma herança genética de 1%, quem sabe, dois, sobre uma tribo local?
Talvez, seja essa a analogia mais adequada às invenções da narrativa sionista contemporânea, apesar de a eventual reivindicação dos afro-americanos, ainda assim, ser muito menos vã do que a reivindicação dos sionistas europeus à Palestina — a maioria dos quais não tem qualquer laço familiar ou ancestral com a região.
Israel age há décadaas sob essa narrativa — de um privilégio divino, para assassinar, destruir, desmembrar, torturar, oprimir, humilhar, deslocar, estuprar, queimar vivos e bombardear tudo em seu caminho, sobretudo vidas e sonhos dos palestinos nativos, com o objetivo final de consolidar sua dominação e expansão regional, além de sua expropriação de recursos em nome de um supremacismo internacional.
A impunidade de que desfrutou Israel por ao menos oito décadas, sobretudo mediante apoio incondicional dos Estados Unidos — financeiro, militar e políticos — enfim culminou em uma “solução final” — um Holocausto que se desdobra em nossas telas cotidianas, com as imagens de Gaza.
RESENHA: Imaginando a Palestina: Culturas de exílio e identidade nacional
A Mensagem abre poderosíssimas fissuras na armadura da propaganda israelense, ao nos fornecer um caminho para compreender o papel da mídia de massa, primeiro em fomentar e então em justificar o massacre desenfreado de civis indefesos, da população nativa, por uma potência militar colonial.
Aqueles para quem Jim Crow e os pogroms contra os negros de Tulsa estão imbuídos em sua formação intelectual não enxergam na Palestina, afinal, uma questão tão “complicada” assim. Coates nos diz: “O que mais me chocou enquanto estava na Palestina é o quão simples tudo aquilo realmente é”.
Esta é provavelmente, em último caso, a mensagem de A Mensagem.
Publicado originalmente em Middle East Eye